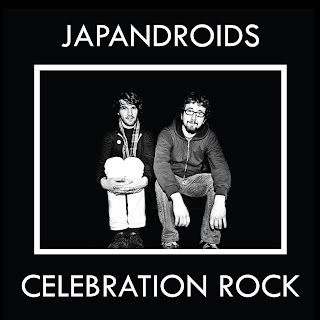If... (1968) é um drama britânico produzido e dirigido por Lindsay Anderson que retrata a vida dos estudantes de uma tradicional escola da Inglaterra exclusivamente para garotos em meados da década de 1960, marcada pelos movimentos de contracultura, muito fortes nos Estados Unidos, bem como pelas revoltas estudantis na França. O filme, premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1969, revelou o talento de Malcolm McDowell, que, mais tarde, se tornaria mundialmente famoso ao estrelar o clássico Laranja Mecânica (1971), de Stanley Kubrick. McDowell atuaria em outros dois filmes de Anderson, O Lucky Man! (1973) e Britannia Hospital (1982), ambos na pele do personagem Michael Travis.
O longa inicia-se com a chegada de um aluno novo ao colégio, Jute (Sean Bury), que, em meio a diversas hostilidades reservadas aos calouros, é apresentado às instalações da instituição e às rígidas regras impostas. A prática de bullying é constante mesmo por parte daqueles que, por sua vez, se veem submissos ao comando dos mais velhos; responsáveis por monitorar os dormitórios, estabelecer punições de acordo com as faltas cometidas, proibir o consumo de bebidas alcoólicas e até de controlar o comprimento do corte de cabelo de cada um – longas madeixas eram interpretadas como um sinal de rebeldia. Os juniors são obrigados pelos alunos do último ano a desempenhar tarefas não remuneradas designadas aos serventes, como preparar chá, caracterizando a rigorosa hierarquia ainda existente em muitas dessas escolas. Os métodos ortodoxos de ensino incluem violentos castigos corporais sob a justificativa de “disciplinar, formar cidadãos dignos e homens bem-sucedidos em suas carreiras”, a participação obrigatória no coral da Igreja e nas demais cerimônias religiosas, infligindo à fé em Deus, além de humilhantes avaliações médicas - que incluem fileiras para o exame da genitália - às quais os recém-chegados são submetidos.
Michael “Mick” Travis, no primeiro dia de aula do ano letivo, surge de sobretudo, chapéu preto e um longo cachecol que recobre parcialmente o rosto com o intuito de esconder o bigode que ele havia deixado crescer durante as férias. A contragosto, Mick é forçado a raspá-lo, o que incita ainda mais seu ódio contra uma opressão que aparenta não ter sentido algum. Ali, tudo é cronometrado: o tempo de higiene, a arrumação de pertences, os exercícios físicos... Até mesmo os alimentos são meticulosamente racionados. As perversões dos funcionários da instituição não são ignoradas, a exemplo do capelão (também professor de geometria) que molestava os alunos durante as aulas.
Junto aos amigos Johnny (David Wood) e Wallace (Richard Warwick), Mick desenvolve um sentimento anárquico baseado na vontade de desconstruir as convenções já conhecidas, eliminar a injustiça e a covardia, o autoritarismo, a manipulação, a alienação perpetuada pelos mais fracos e a falta de liberdade. A solução à vista, para ele, é invocar a luta armada, evidenciada pela frase “One man can change the world with a bullet in the right place” (“Um homem pode mudar o mundo com uma bala no lugar certo”). O personagem de McDowell passa a ganhar cada vez mais destaque, seja pela insolência, pelo sorriso irônico ou pelos trejeitos que previam o inesquecível Alex DeLarge de Laranja Mecânica, hoje um ícone da cultura pop, levado às telas três anos mais tarde.
A insurreição dos jovens atinge seu ápice quando Travis e Johnny decidem se ausentar da escola – o que é terminantemente proibido – e passear pela cidade. Os dois entram em uma concessionária e fingem observar os modelos da loja, ao passo que Travis, de modo estupidamente fácil, rouba uma das motocicletas e pega a estrada com o amigo na garupa, afastando-se dos centros urbanos. Após alguns instantes, Travis estaciona a moto e entra em uma lanchonete com Johnny. Eles pedem café, e Mick logo se vê atraído pela atendente do estabelecimento (Christine Noonan) e lhe rouba um beijo. A moça lhe dá um agressivo tapa como resposta. Mais tarde, ela procura Mick e volta a encará-lo, afirmando comportar-se como um tigre. O surpreendente é notar que o rapaz corresponde a essa selvageria nas mesmas proporções e o que se tem é uma incrível sequência de viés surrealista, na qual os dois se afundam em uma fúria sexual de autodestruição.
Enquanto isso, o terceiro membro do grupo, Wallace, envolve-se em um romance com Bobby Phillips (Rupert Webster), um dos meninos mais novos, embora ciente de todas as consequências que isso poderia acarretar. A homossexualidade é mais uma das polêmicas questões abordadas no filme e um dos principais tabus na Inglaterra na época – até meados de 1967, a sodomia era considerada crime por lá.
Com uma ótima fotografia, o filme é intercalado por cenas coloridas e em preto e branco, e seus momentos de transição encontram-se perfeitamente encaixados no contexto, conferindo-lhe maior valor estético e semântico: a primeira vez que Phillips e Wallace se viram após o treino de educação física, no ginásio esportivo, a luta de esgrima entre os três amigos, a cena incendiária entre Mick e a garota da lanchonete. Ela, a propósito, se une aos rapazes no combate armado à autoridade tirânica, que toma lugar após uma celebração realizada no colégio. O estopim para o ataque foram as severas surras que os três sofreram como penalidade em decorrência das últimas faltas cometidas. O festim irrompe-se em disparos, desesperado, furioso e sangrento.
A partir daí, constata-se o paradoxo presente na prática da revolução: se, a princípio, o anseio por liberdade, melhores condições de vida e um sistema de educação mais eficiente impulsionam mudanças, o processo de edificá-las carece de boa retórica e uma base ideológica sólida, o que torna a imposição pela força o único caminho mais viável, ainda que primitivo. Desse modo, o grito de indignação não só não tem uma impressão prolongada como também acaba por igualar o grupo revolucionário ao despotismo do sistema vigente, um desafio à hesitação expressa pela condicional do título.
O resultado é um dos mais reconhecidos símbolos da rebeldia e da contracultura, o que faz de If ... um filme bastante competente, sendo eleito em 2004 pela publicação Total Film um dos maiores filmes britânicos de todos os tempos.
.jpg)